19 Jan 2026
Entre Coníferas e Código: Jura Shust Sobre Mito, Memória e Máquinas
Entrevistapor Alexander Burenkov
Na era pós-digital — onde o digital já não parece novidade, e as suas infraestruturas saturam a perceção em vez de a enquadrar — a obra de Jura Shust desenrola-se como uma profunda imersão na fragilidade do ritual, da memória e do mito sob condições de computação implacável. Nascido na Bielorrússia e radicado em Berlim, Shust opera numa zona híbrida entre cosmologias arcaicas e futuros algorítmicos, inspirando-se no animismo eslavo, em deslocamentos de diásporas, em imaginários ecológicos e em resquícios culturais pós-soviéticos para investigar o que resta do sagrado quando as nossas fugas são projetadas por fluxos de experiência do utilizador e redes neuronais de autoaprendizagem.
A sua prática, que abrange a instalação vídeo, a escultura, as imagens geradas por IA, a resina e a madeira, aponta para uma noção expandida de ritual — uma que já não está ligada a comunidades estáveis ou a sistemas de crenças herdados, mas emerge de falhas, vestígios de dados, labirintos digitais e entrelaçamentos interespecíficos.
A obra de Shust é igualmente uma meditação sobre a decomposição e a síntese: como os ciclos orgânicos se encontram com as ecologias tecnológicas, como os dispositivos e os dados são consumidos, reciclados ou abandonados, e como o ritual pode intervir nestes ciclos de feedback. As suas esculturas e relevos emergem frequentemente de processos colaborativos com sistemas algorítmicos, como redes neuronais reinterpretando as suas próprias arquiteturas através de metáforas de micélio ou sistemas radiculares, ou inteligência artificial traduzindo radiografias do seu cérebro em formas de madeira fresada, posteriormente ativadas com terra negra e resina. Nestas obras, o espiritual e o computacional não são opostos, mas modos paralelos de animismo — cada um produzindo os seus próprios fantasmas, projeções e experiências extracorporais.
A cosmologia de Shust é intrinsecamente política: moldada pelo mito bielorrusso, pela fragmentação pós-soviética, pela deriva da diáspora e pela intensidade tóxica do bairro de Neukölln, em Berlim. Contudo, a sua visão de identidade resiste a narrativas fixas; torna-se um campo mutável de relações entre humanos, árvores, espíritos, algoritmos e forças ambientais. Num mundo em que os rituais digitais — fazer scroll no ecrã, arrastar para o lado, transmitir conteúdo — substituem os ritos comunitários, a prática de Shust questiona que novos rituais podem emergir para o sujeito pós-digital e como a floresta, a rede e o corpo podem convergir numa era definida pelo colapso das fronteiras entre a natureza e a computação.
Alexander Burenkov: O seu trabalho situa-se frequentemente na interseção entre o ritual e o escapismo. Numa era pós-digital em que a nossa sensação de “escapar” é continuamente mediada por ecrãs e redes, como concebe o ritual em oposição ou em diálogo com os rituais digitais (notificações, feeds, avatares)?
Jura Shust: Vejo a computação como algo enraizado no ritual. É um padrão obsessivo, uma espécie de TOC que cultivamos há séculos. O espaço digital já não promete uma fuga; é, na verdade, uma armadilha, com o seu labirinto de experiências de utilizador. E o que é realmente novo no comportamento ritualístico digital é a insensibilidade que paralisa os nossos corpos à medida que os nossos cérebros se expandem no espaço governado por algoritmos de autoaprendizagem.
AB: No seu projeto a solo Neophyte III: On the Eve of the Shortest Night (2023), envolve jovens exilados bielorrussos num encontro ritualizado com a floresta: um espaço que, para si, funciona tanto como um limiar mitológico como uma plataforma alternativa para a consciência pós-digital. A floresta apresenta-se como um bioma de transição, um local de regeneração, mas também de comunicação encriptada, onde as coníferas armazenam memórias, servem de recetáculos para espíritos e ecoam práticas ancestrais de leitura de mensagens nos seus troncos manipulados. Como vê o papel da floresta no seu trabalho, tanto como um espaço natural como uma espécie de “plataforma alternativa” para a consciência pós-digital?
JS: Na minha tradição, a floresta é um espaço de transição e regeneração que preserva a lógica de uma natureza autocêntrica e não humana. Costumo referir-me ao conceito de bosque sagrado — o lugar que os nativos eslavos viam como um templo que os ligava ao universo. Nestes locais, as árvores são vistas como provedoras do mundo paralelo habitado pelos antepassados. Este padrão remete para motivos importantes como a árvore do mundo, a árvore da vida ou a árvore genealógica. Não se trata de um culto dos mortos, mas sim dos antepassados vivos que existem noutra dimensão, provavelmente informacional. Assim, dado que cada sistema de crenças espirituais possui a sua própria versão de um mundo paralelo, percebo-o como um software incorporado que gravita inevitavelmente para a ideia de simulação.
AB: Em muitas das suas obras, a floresta ou a árvore tornam-se quase um ator ou um local de memória — por exemplo, a sua referência às coníferas como recetáculos de almas. Como pensa a floresta em relação aos dados: como arquivo, como rede, como organismo?
JS: No contexto eslavo, as florestas de coníferas eram frequentemente utilizadas como cemitérios, em parte devido ao seu estatuto mitológico de submundo e em parte porque as florestas de abetos são as mais escuras, bloqueando quase toda a vida na sua sombra. De acordo com os encantamentos bielorrussos, seres antropomórficos do “outro” mundo ou animais ctónicos habitam sob os ramos dos abetos. Ao mesmo tempo, a madeira de abeto é um material tradicional para a construção da “casa eterna” – o caixão.
A reverência dos povos indígenas da Europa de Leste pela natureza, particularmente pela floresta, é excecional. As qualidades animistas eram atribuídas a todo o ambiente e a cada um dos seus elementos. Esta visão do mundo reflete-se vividamente no mito de Kupala, onde os animais, as árvores e as ervas adquirem a capacidade de falar e de se mover, enquanto o fogo e a água adquirem o poder de purificação e renovação. As relações interespecíficas desempenham um papel importante na minha prática. Formam um fio condutor central na investigação que estou a desenvolver na plataforma saliva.live.
AB: A sua visão de uma “floresta pós-digital” oscila entre o mito e a máquina: um reino híbrido de sensores, biomas, lógica ancestral e agentes algorítmicos. Nas suas instalações, a própria informação torna-se uma droga à qual o corpo é cada vez mais condicionado, enquanto o mundo material — madeira de abeto, resina, solo — ancora as alucinações digitais na matéria física. Como imagina este reino híbrido de sensores, biomas e mitologias?
JS: Cada vez que ouço dizer que a IA nunca nos substituirá, sinto-me como se fosse Natal. Se a consciência é apenas um ecossistema informacional, então, em teoria, pode ser executada num dispositivo com poder computacional suficiente. Parece que o upload do cérebro está a tornar-se o futuro da nossa integração digital e, como entidades informacionais, poderemos em breve habitar servidores enquanto as nossas subscrições estiverem pagas.
AB: A expressão “intoxicação por informação” surge na sua descrição. Pode explicar como traduz essa intoxicação em experiência material, temporal e espacial nas suas instalações?
JS: De olhos vendados, confio sobretudo na intuição, evitando assim transformar esta num discurso metodológico. O meu processo é impulsionado pela subjetividade especulativa, pelos estados de delírio e pela polissemia, que criam distorções mentais ou falhas lógicas. Vejo estas colisões transformarem-se em portais que potencialmente levam a um mundo "real", de forma semelhante à descrição feita por R. Yampolskiy em Escape Simulation. Em suma, a informação é uma droga altamente viciante; somos feitos dela e, ao que parece, a ela regressaremos sempre.
AB: O seu trabalho recente (por exemplo, Coniferous Succession, 2023) utiliza imagens geradas por IA, madeira, resina e outros materiais. Como acha que a IA e os sistemas algorítmicos se relacionam com as dimensões mitológicas, animistas ou espirituais que evoca?
JS: Vejo a IA como uma entidade informacional que finalmente deixou o corpo e começou a operar por conta própria. Esta separação, há muito desejada pela humanidade, está finalmente em curso. Em muitas religiões e sistemas de crenças espirituais, a ideia de uma experiência fora do corpo é omnipresente. No meu vídeo Neophyte III: On the Eve of the Shortest Night (2023), interpreto um grupo de jovens como uma estrutura molecular ou uma rede neural interagindo com o seu ambiente através da interface de um ritual. Já em Annual Growth at the Top: Succession (2024), um grupo de árvores de Natal colhidas após a celebração do Ano Novo é encaixado num aglomerado metálico. A antiga tradição do corte ritualístico de ramos de coníferas está enraizada na ligação entre os antepassados e os descendentes, em que o recetor podia ler uma mensagem codificada no tronco manipulado de uma árvore viva.
AB: Muitas vezes justapõe o tempo linear e o circular, ou a mundividência arcaica e a perspetiva futurista. Num mundo em que o tempo digital é fragmentado (instantâneo, ficheiro, loop, feed), como é que o seu trabalho repensa a temporalidade
JS: Embora a linearidade seja praticamente um dogma, tenho interesse em revisitar a circularidade ritualística que os etnógrafos descrevem frequentemente como central na visão do mundo dos nossos antepassados. Acredito que mudar a perceção da temporalidade pode mudar a nossa relação com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, a retrocausalidade é outro conceito intrigante.
AB: O termo “pós-digital” refere-se frequentemente a uma condição que vai para além da novidade da tecnologia digital, onde o digital está intrinsecamente ligado à vida e procuramos o que virá depois. Como é que a sua prática se situa num momento “pós-digital” (e não simplesmente digital)?
JS: Provavelmente, a minha orientação temporal é menos influenciada pelo “próximo”. Tal como esta entrevista é uma potencial troca entre duas redes neuronais, os meus trabalhos recentes envolvem frequentemente a comunicação com agentes de IA. Na série intitulada Untitled, 2024, alimentei o sistema com os seus próprios diagramas de arquitetura informacional, pedindo-lhe que os repensasse utilizando a metáfora de um sistema radicular ou micélio, enquanto na nova série alimentei uma rede neural com um ficheiro de raios X do meu cérebro para gerar relevos que foram posteriormente esculpidos em madeira de abeto, ativados por solo negro e revestidos com uma camada de resina sintética.
AB: Explora o ciclo de renovação da decomposição orgânica e da síntese artificial. Como vê este ciclo em relação à nossa ecologia tecnológica atual — a forma como os dispositivos são descartados, reciclados e atualizados — e como é que o ritual intervém neste ciclo?
JS: Inevitavelmente, estamos a caminhar nesse sentido, e não há espaço para o moralismo. A humanidade é destrutiva, e não se trata apenas de tecnopessimismo; como bem observou Marshall McLuhan, é apocalipse. O melhor que podemos fazer pela interligação é abandonar a ambição pela imortalidade. Aqui, posso referir-me à outra camada do meu vídeo recente, onde a comunidade acompanha os estados de agregação da resina orgânica, reciclando-a no final e sincronizando-se com a natureza cíclica do vídeo.
AB: A sua origem (bielorrussa, radicada em Berlim) e as suas referências (mitologia eslava, cultura soviética, cultura digital/tecnológica) criam um terreno híbrido rico. Como vê a política da identidade (nacional, pós-soviética, diaspórica) na sua prática pós-digital?
JS: É uma cosmologia distorcida onde humanos, árvores, espíritos e sistemas estão entrelaçados. Um espaço onde a identidade de diáspora se torna menos sobre origem e mais sobre processo, constantemente reescrita pelas forças ambientais e tecnológicas. Desta forma, o animismo é a identidade com a qual mais me identifico, onde a pertença não está ligada a território, mas sim a relações, sinais, ecossistemas e mitologias que transcendem as fronteiras políticas. Desde participar no meu primeiro cortejo fúnebre até frequentar seitas espirituais nos anos 90, migrando por alguns países durante décadas, estou presa no caldeirão tóxico de Neukölln, em Berlim, onde estou lentamente a perder a minha familiaridade com a tecnologia, reaprendendo a enviar cartas físicas e a usar dinheiro em espécie.
AB: A noção de experiência “fora do corpo” surge na descrição do seu trabalho. Com a realidade virtual, a realidade aumentada e as narrativas de transcendência da IA tão presentes no nosso quotidiano, como canaliza ou critica esta busca pela descorporização na sua arte?
Experiência fora do corpo é o título da minha próxima exposição individual, que inaugura no início de janeiro na Management, em Nova Iorque. No vídeo principal do projeto, visualizo um espírito errante que migra do animismo tradicional em direção à nova materialidade, enquanto explora os ciclos de renovação. Há mais de 100 anos, Vernardski, o famoso defensor da matéria não viva, propôs um modelo chamado Noosfera, no qual as entidades informacionais ou espíritos formam uma camada de pensamento informacional ao nível orbital. Hoje, esta camada está a ser consumida pelos rastreadores de IA, que estão a reorganizar o nosso coletivo enquanto sintetizam uma nova cosmologia.
AB: Muitas das suas obras utilizam materiais como resina de pinho, madeira, objetos analógicos, juntamente com vídeo digital e inteligência artificial. Para si, qual é a tensão ou complementaridade entre o material analógico e o digital/pós-digital?
JS: Estas dimensões estão profundamente interligadas. Estou a usar tanto a resina de abeto orgânica como a sua versão sintética, esbatendo as fronteiras entre elas. Na minha série de trabalhos, Neural Seedlings, 2024, pedi à IA para gerar um relevo de plântulas de coníferas. No vídeo em que estou a trabalhar neste momento, são plantadas mudas reais de abeto no local da plantação de árvores de Natal, enquanto no cemitério de Neukölln, habitado principalmente por toxicodependentes, são plantadas coníferas em túmulos. Devido ao sistema radicular plano do abeto, estas caem frequentemente com uma rajada de vento. Um desses cepos, arrancado do túmulo, forma o corpo da obra intitulada Pflanzen Abfälle, 2025.
AB: A sua prática evidencia o desaparecimento do ritual da cultura contemporânea. Vê o seu trabalho como uma reconstrução de rituais, uma invenção de novos ou talvez uma observação dos resquícios dos antigos? Como se relaciona com as formas rituais da cultura digital (rolar o ecrã, deslizar o dedo, transmitir conteúdo)?
JS: O meu algoritmo fornece-me vídeos de pessoas a abraçar árvores, a falar com elas e a descodificar as suas emanações. Mesmo que seja pura especulação, sem qualquer influência externa, lembro-me da minha intensa atração por árvores quando era criança. Enquanto não houver repetição, o ritual nunca desaparecerá. Os padrões estão a mudar, tornando-se mais complexos, sofrendo mutações, mas nunca desaparecendo.
AB: O seu projeto aborda frequentemente a biopolítica, o poder e o controlo (por exemplo, em NEOPHYTE estabelece ligações com anonimizadores digitais e jovens nas florestas). Como vê o papel da rede digital (criptomensageiros, anonimato, vestígios de dados) na estrutura mitológica do seu trabalho?
JS: Na parte inicial do the Neophyte project 2019-2024, abordei os anonimizadores digitais e a dinâmica da dark web, fundindo-os com a narrativa arcaica da busca pela mítica flor de feto. Utilizei o método de tráfico de pessoas, difundido por toda a região pós-soviética, para visualizar novos comportamentos ritualísticos num contexto de repressão física. De salientar que este projeto antecedeu a revolta bielorrussa de 2020, que foi possibilitada, entre outros fatores, pelas tecnologias de criptografia.
AB: Por fim: se fosse propor um novo ritual para o sujeito pós-digital — um que abordasse o colapso das fronteiras entre a natureza, a tecnologia e a psique — qual seria? Que papel desempenhariam o corpo, a rede, a floresta e o dispositivo?
JS: Um dos principais objetivos tecnológicos é eliminar completamente a prótese, reduzir o atraso computacional e tornar a experiência do utilizador totalmente perfeita, a direção que temos seguido desde o primeiro dia da nossa existência. Enterrar o seu corpo em solo negro, evitando qualquer tipo de embalagem de plástico e, possivelmente, num caixão de coníferas fresco e resinoso, seria um contributo valioso para a fertilização do solo, para além de garantir a imortalidade molecular.
BIOGRAFIA
Alexander Burenkov é um curador independente, produtor cultural e escritor sediado em Paris. O seu trabalho estende-se para além das funções curatoriais tradicionais e inclui a organização de exposições em espaços não convencionais, enfatizando frequentemente a multidisciplinaridade, o interesse pelo pensamento ambiental e as sensibilidades pós-digitais, abrangendo projetos como a Yūgen App (lançada na Bienal de Design do Porto em 2021), uma exposição num ginásio ou uma exposição online sobre serviços na cloud e modos alternativos de educação, ecocrítica e estética ecofeminista especulativa. Destacam-se os seguintes projetos recentes: Don't Take It Too Seriously na Temnikova&Kasela gallery (Tallinn, 2025), Ceremony, o projeto principal da 10ª edição da feira Asia Now (juntamente com Nicolas Bourriaud, Monnaie de Paris, 2024), In the Dust of This Planet (2022) no ART4 Museum; Raw and Cooked (2021), juntamente com Pierre-Christian Brochet no Russian Ethnographic museum, São Petersburgo; Re-enchanted (2021) na Voskhod gallery, Basel, e muitos outros.
Anterior
showcase

12 Jan 2026
ROSAS
Por Tatiana Macedo
Próximo
article
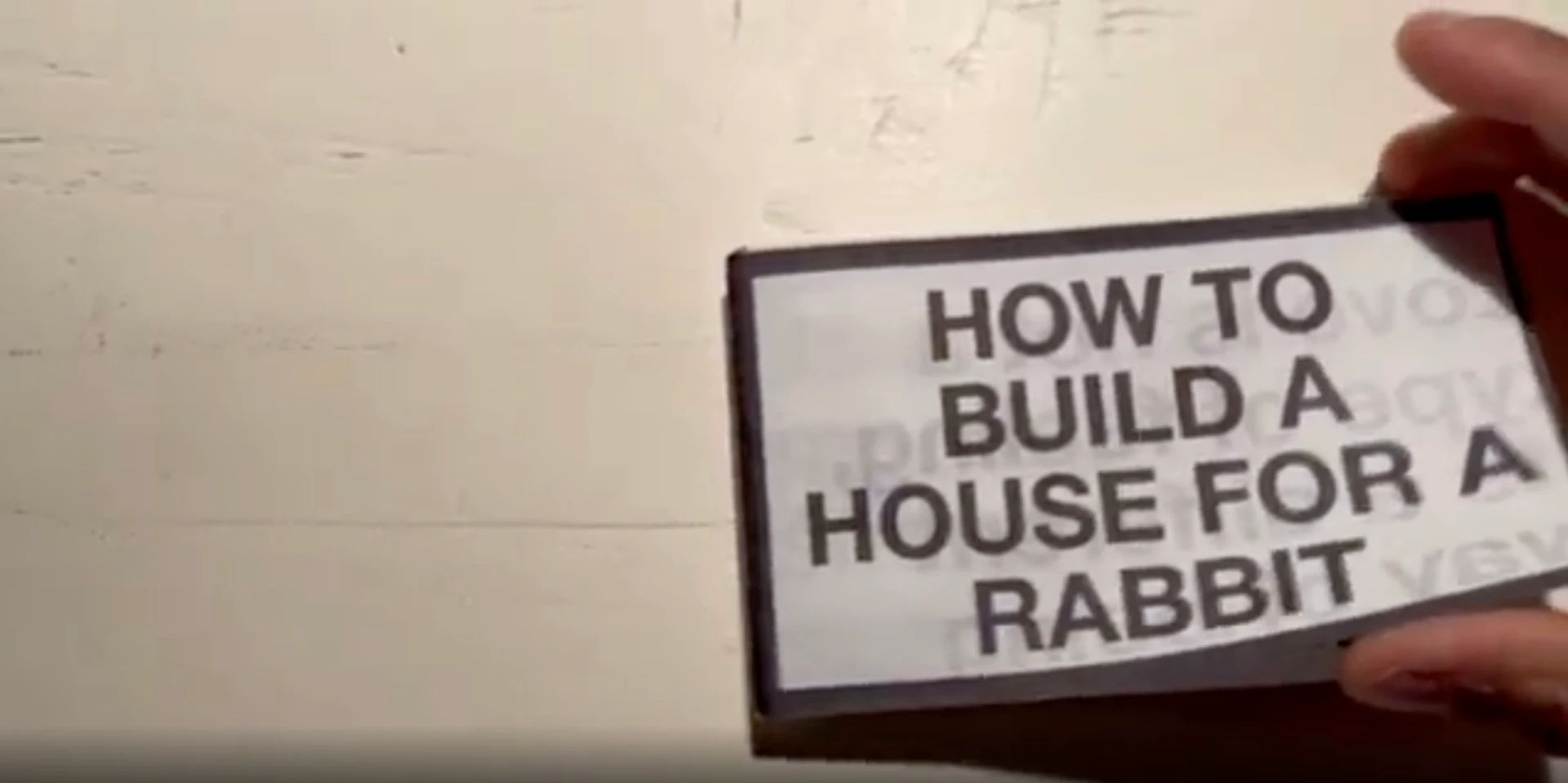
26 Jan 2026
The Wrong Biennale: Inteligência Artística, Conhecimento Corporal e Curadoria sob a ascensão da IA
Por Dela Christin Miessen
PROJETO PATROCINADO POR