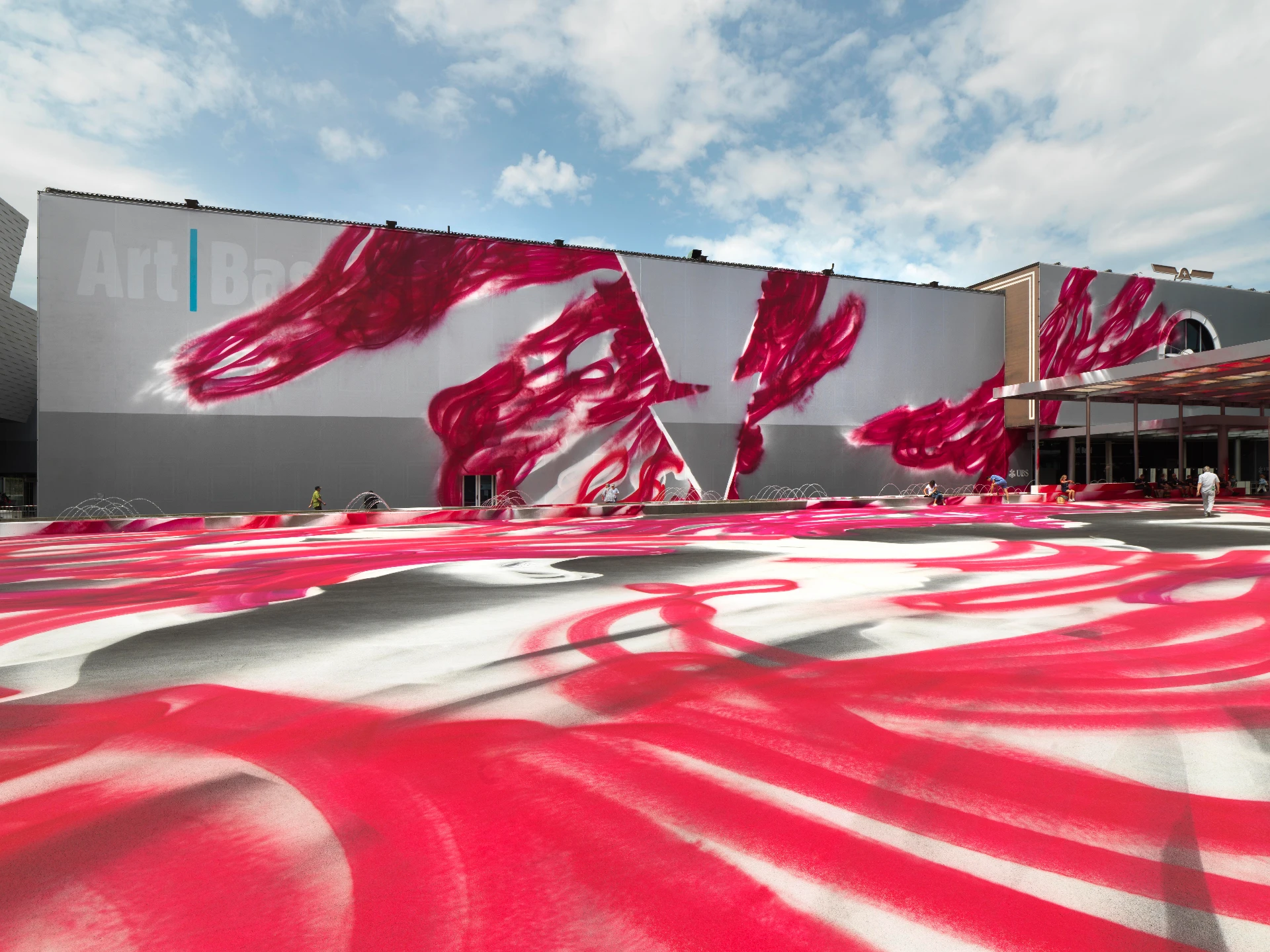O que é a arte se não o sentimento do tempo, materializado no espaço — ou a materialização do tempo sentido, reconhecida no espaço? Dito isto, não me refiro ao Zeitgeist hegeliano, e muito menos ao Kunstwollen riegliano, refiro-me, ao invés, à concepção de uma liminaridade entre o espírito e a matéria. Também não pretendo afirmar que tempo é espírito e que espaço é matéria — mas que a imaterialidade do tempo é desmantelada pelo espaço e que a materialidade do espaço é desmantelada pelo tempo. Neste contexto, a arte parece desvincular esses conceitos dos seus axiomas, ao perturbar a nossa percepção sobre essas duas variáveis — o tempo e o espaço. É o tempo ou o espaço que define as condicionantes de uma obra de arte? Preciso de tempo para pintar, para modelar, cada movimento que está na concepção de uma obra é pautado por um tempo. Mas também preciso de espaço, para organizar movimentos e materiais. A este binómio liminar pode-se apelidar de ‘lugar’: “um espaço torna-se um lugar quando, através do movimento investimos nele com significado”[i]. E este lugar — entre o espaço, o tempo e o significado (ou a significação) — é tudo o que a Arte pode ser. Ainda assim, apesar da intelecção desta tríade, há um elemento que escapa, constantemente, à leitura critica de uma obra finalizada — exatamente pela ideia de finalização da produção, por ventura, o tempo. E é precisamente esse o elemento que domina a exposição Feeling Time.
Na galeria, composta por dois pisos, identifica-se, no de cima, obras de 3 artistas + 1 no piso de baixo (trocadilho intencional) — Bobby Dowler (UK, 1983), Miguel Marina (ES, 1989) e Alberto Peral (ES-BI, 1966) + Javier Arce (ES, 1973). Nos trabalhos apresentados pelos quatro, a evidência do tempo manifesta-se de variadas formas — cada artista fá-lo à sua maneira, no seu medium. E fazem-no de tal forma que contrariam a suspensão temporal característica do white cube, o tempo existe ali dentro — não são épocas, passados, presentes ou futuros; mas movimentos e oscilações que se cumprem em constante devir.
Pela ordem dispositiva, são duas telas de Miguel Marina que nos recebem na galeria. Em ambas, cores, traços, manchas e movimentos erráticos ocupam generosamente a tela. Reconhece-se, no enredo pictórico que permanece, um rhuthmos. Entendido como a concepção pré-platónico de ritmo, rhuthmos opõe-se à ideia exclusiva de ritmo como repetição e métrica. A académica Salomé Lopes Coelho[ii] define-o da seguinte forma: “rhuthmos não remete apenas para a configuração momentânea de qualquer coisa móvel, remete também para a maneira particular de fluir de um fenómeno, isto é, nomeia uma forma tal como se apresenta aos olhos do observador, no momento e movimento particular com que se dá essa forma. (…) Ritmo é, neste seguimento, uma realidade dinâmica observada no momento do seu fluir, assim como também se refere à forma desse dinamismo em si. Uma análise do ritmo deverá, por conseguinte, ser uma análise do rhuthmos”. A percepção e emoção do rhuthmos não é fácil de representar ou significar, sendo que a sociedade (pós)moderna coreógrafa o quotidiano por meio da repetição de práticas e movimentos, ainda assim Miguel Marina fá-lo, e muito bem, desde logo a partir do momento que entrega uma tela colossal e outra receosamente tímida.
Em seguida deparamo-nos com esculturas em latão e aço de Alberto Peral. Estas, apesar sua exímia concepção geométrica, questionam as dimensões cartesianas numa incerteza de fluxos, forças e padrões de posições com oscilações. Num loop de dualismos, entre o interior e o exterior, o cheio e o vazio — o tempo (passado, presente futuro) torna-se um, um simultâneo, desdobrável pelas diferentes dimensões.
Ao fundo da sala, ainda no primeiro piso, três instalações de Bobby Dowler dialogam com as anteriores, num ambiente entre a pintura e a escultura. Isto é, o artista constrói pinturas com a sobreposição de lonas, sobre telas. Estes trabalhos tecem afinidades e cumplicidades — entre materiais e categorias artísticas, bem como entre amigos e colegas. Dizem-nos, o artista e a galeria, que para a produção destas obras, Dowler recolhe telas e grades entre os seus pares. Essa preferência tende a contrariar o “tempo” das obras e dos materiais — da mesma forma que há uma sobreposição de elementos e cores, há uma sobreposição de tempos (e de espaços) — o enredo que se constrói nas telas de Dowler concebe uma “história” sensível, mas quase invisível de matérias. Apesar do plano da superfície não revelar sempre de forma evidente essas sobreposições, elas estão lá, umas por cima das outras, constituindo uma simultaneidade em camadas, apesar da invisibilidade das primeiras e da incerteza das próximas — tal e qual o tempo. Da mesma forma, por vezes Dowler abre rasgos sobre essas mesmas camadas, onde se revelam as anteriores, como rastos, ou memórias — obliteradas pela passagem do tempo, mas manifestas no acto de recordação.
No andar de baixo concentra-se o trabalho multidisciplinar de Javier Arce, desdobrado em pintura e instalação. As obras que nos apresenta encontram-se numa encruzilhada entre a agência humana e a não-humana (natureza). Sob as decisões estéticas e formais que Arce toma os materiais naturais que as compõem — como o linho e as grades naturais onde sobrepõe a pintura a óleo — também tomam, por sua vez, medidas e disposições. As obras não parecem estar terminadas após a sua produção, ao invés, vão-se (de)compondo ao longo do tempo. Da mesma forma, as paisagens que pinta sobre essas estruturas naturais tornam-se quase psicadélicas — no que aparenta representar uma sobreposição de tempos sobre a mesma vista, sobre a mesma perspectiva. As instalações, por seu turno, parecem reclamar espaços ou “lugares” de incerteza, onde o significado constitui-se pelo uso efêmero, ao invés da matéria construída — como é o caso de uma aranha que teceu a sua teia na escultura em paus de carvão, e que por lá permanece, ainda.
Em Feeling Time, o tempo, aquele que se sente e reconhece ao largo da exposição — é o dos materiais, em tensão com a agência humana. Num ensaio quase-animista, o tempo e o espaço irrompem mais fortes que o não-lugar que as acolhe, o white cube. Ainda assim, compreende-se que um desses elementos romperá sempre mais vigorosamente que o outro — o tempo, que não é nosso, mas do espaço que o acolherá. Como bem nos dizia Didi-Huberman — a obra (de arte) não é o passado, nós é que o seremos, a obra é o futuro, sempre contemporânea de quem a olha. Assim, a arte é sempre contemporânea.
Feeling Time, de Bobby Dowler (UK, 1983), Miguel Marina (ES, 1989) e Alberto Peral (ES-BI, 1966) e Javier Arce (ES, 1973) está patente na galeria 3+1 Arte Contemporânea até 14 de Setembro de 2024.
Nota: A autora não escreve ao abrigo do AO90.
[i] Tuan Y-F. (1977) Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis: Univ. Minn. Press.
[ii] Coelho, S-L. (2020). O gesto da travessia e o contacto com o ritmo vital: Sobrevivências do ekstasis no cinema. Tese de Doutoramento em Estudos Artísticos, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 40.