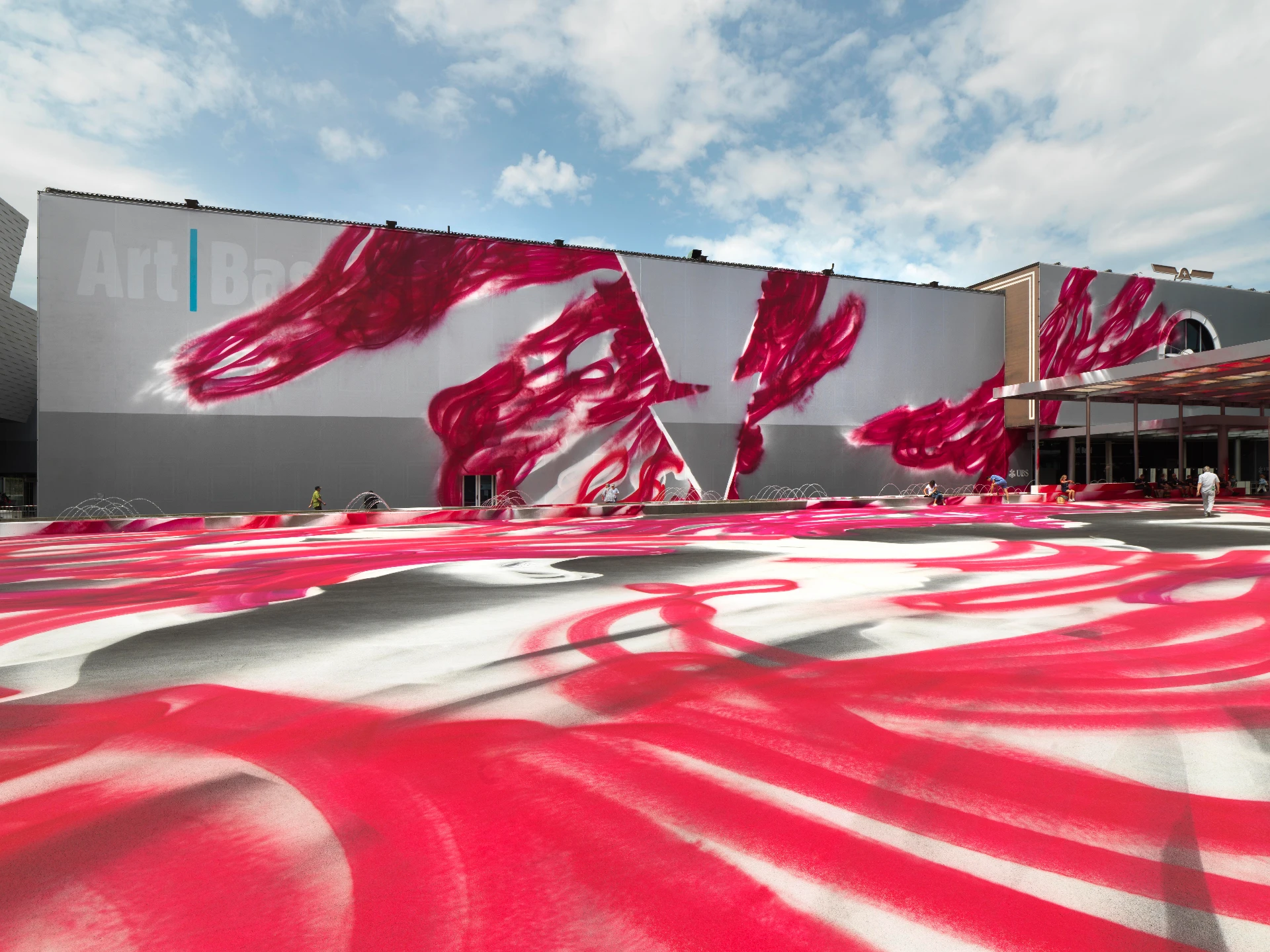article
Tramas de Mundos em Construção – Walk&Talk retorna como Bienal
Fim de Setembro, término de Verão, prelúdio de Outono e do seu processo de regeneração. Isto é verdade para o mundo natural, tal como para o Walk&Talk, que regressou, nessa mesma estação, na sua primeira edição enquanto bienal. Apesar de já não ser um gesto anual –o da Bienal–, acaba por ser tão orgânico, de-estrutural e radical (do latim radix, raíz) quanto o outonal. Isto é, periodicamente, um conjunto de ações expõe esqueletos e despe estruturas, num retorno às bases e numa coreografia que perturba ciclicamente identidades, fronteiras e sistemas de significado.
Esta des-organização, intrínseca ao Outono e à Bienal em cada edição, não é destrutiva — muito pelo contrário, opera em desconstrução1. Digo, opera mediante uma série de esforços que questionam se podemos permanecer em movimento, se podemos “permanecer des-territorializados”2. Em outras palavras, o Walk&Talk prefigura-se como um meio, e não um fim, onde a cultura e as artes, ou melhor, os agentes culturais (humanos e mais-que-humanos) e os artistas se empenham em fazer arte — não pela arte, mas pela possibilidade de libertação do mundo capitalista em questão. Mas como pode uma bienal de artes ter tamanha ambição? Construindo outros mundos, como bem propõe Enar de Dios Rodríguez, num ensaio audiovisual que abre a Bienal: “a melhor maneira de prever o futuro é criando-o”. Mas, já lá iremos. Antes disso, a risco de me repetir, convido a pessoa leitora a voltar ao texto que escrevi em Novembro do ano passado (Walk&Talk – Uma Bienal de Afetos Abundantes e Gestos Relevantes), onde me demorei acerca da proposta do diretor artístico Jesse James para a Bienal, bem como da equipa curatorial – Claire Shea, Fatima Bintou e Liliana Coutinho – para esta edição que se inaugura.
Depois de debutar este texto com uma orientação temporal (cronológica e meteorológica), importa sublinhar o espaço geográfico no qual se desenrola a Bienal. Isto porque São Miguel, nos Açores, compreende uma condição insular, ou seja, onde o fim não parece realmente um final, e o início não aparenta representar o inaugural. Há uma permeabilidade local-global avançada pela condição territorial, marginal, central e liminal que perturba a própria condição espácio-temporal. E ainda, tal como a operação sazonal, a Bienal não age somente durante e perante um foco central e ocasional — ao contrário, depende de todo um trabalho relacional e processual que nunca abandona a ilha, o arquipélago, o oceano e a inter-relação com esse quotidiano.
Antes de nos estendermos sobre a Bienal, vale a pena recuperar a reflexão de Maria Inés Plaza, editora e fundadora do jornal Arts of the Working Class, num belíssimo texto intitulado Art Critique as Midwifery of a Shifting Consciousness: “o que significaria analisar uma exposição [ou bienal] não pela apreciação do seu sucesso ou fracasso, mas colocando a seguinte questão: que tipo de mundo este trabalho procura habitar ou propor?”3. Plaza apela por uma crítica que se afasta de uma noção de juízo e que se aproxima de uma prática de mediação, semelhante à de uma doula, atendendo e apoiando aquilo que está ainda a tornar-se linguagem. A questão deixa de ser sobre o que determinado trabalho artístico, crítico ou curatorial diz, mas sobre aquilo que tenta criar. Transponho essa disposição para este texto.
Regressemos ao fim-de-semana inaugural. 25 de setembro, oito horas da noite (uma hora a menos do fuso horário do Tempo Universal Coordenado, do Meridiano de Greenwich), Praça do Município, Ponta Delgada, São Miguel, Açores, Mundo(s). Situamo-nos neste emaranhado de referências espácio-temporais, para abrir uma outra, que transborda e flui de dentro para fora, como uma onda, exatamente como dita a etimologia da abundância, palavra de ordem desta primeira edição: Gestos de Abundância. Nesse primeiro momento, que se traduziu num jantar comunitário, começámos por dar atenção ao discurso de abertura pela equipa central. Apresentaram-nos a Casa da Bienal, ponto de encontro, de informação e de reflexão que funciona, ao longo dos meses de atividade oficial, como um apoio ao programa, à inscrição e à organização — necessário graças à dispersão e variedade da programação —, mas não só.
Quando atravessamos as cortinas para a zona traseira, mais recolhida, encontramos um espaço que reúne as várias propostas que a Bienal tencionou confrontar. Numa longa mesa, descobrem-se livros como The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea, de Gui Standing; Common Space: The City as Commons, de Stravos Stavrides; A Ficção como Cesta: Uma Teoria e outros textos, de Ursula Le Guin; ou A Poética da Relação, de Édouard Glissant. Além de leituras sugeridas, compreende-se, de imediato, que os livros funcionam, também, como uma enunciação das filosofias que conduzem a missão da Bienal. Numa sala escura ao lado, projeta-se o ensaio audiovisual supramencionado, de Enar de Dios Rodríguez e de título Ecótono (2022). É a partir desta obra que sugiro uma leitura daquilo que se veio a desenrolar no Walk&Talk, não como ilustração intelectual das intervenções e investigações artísticas, mas como confirmação da ativação real e material das filosofias e da missão da Bienal. Cito, daqui em diante, passagens do guião do filme como cabeçalhos de curtos capítulos, onde traço paralelos com (alguns) dos mundos que lá conheci.
1. O profundo contraste da imagem transmite a impressão de que, para a cultura começar, a natureza deveria terminar. Como se o lugar onde os pigmentos estão fosse o lugar onde a natureza não está.
Se ainda não tínhamos a certeza do compromisso da Bienal em romper com o pensamento dialético e antropocénico, responsável pela organização da consciência moderna, dos binarismos teoréticos e de hierarquias de agência cultural, tornou-se óbvio a partir do primeiro momento experiencial do Walk&Talk. Ao jantar comunal juntaram-se um concerto e um DJ set, que materializam a ideia fulcral, várias vezes sublinhada por Jesse James, de que a cultura não corresponde apenas ao pensamento intelectual, mas ao lazer sensório-corporal. Mas não é apenas dessa desconstrução dialética que falo — falo, também, do envolvimento dos corpos do mundo natural no fazer cultural. Na manhã seguinte, encontrámo-nos no mercado central, onde Maria Emanuel Albergaria apresentou mais um dos seus projectos de mapeamento eco-social. Em Estado de Graça, Albergaria considera o mercado, homónimo, como centro cultural. Como bem referenciou a artista, a própria etimologia da palavra “cultura” nasce da prática de cuidar dos solos ao longo dos anos. Numa iniciativa colaborativa, Albergaria enche uma parede do edifício com a história dos mercadores, produtores e fornecedores, bem como dos produtos que compõem o maior mercado dos Açores.
2. Ah, sim, o filme... Bem, o filme desenrolava-se num lugar coberto de conversas. (...) É como se a imagem tivesse sido tão fragmentada que não consegue considerar a complexidade de todas as inter-relações. (...) Mas, como qualquer outra perspectiva, esta não é individual, porque foi desenvolvida em colectivo.
Rapidamente compreendemos que não há outra forma de actuar senão através de uma agência relacional, apesar do humanismo e do individualismo nos terem ensinado o contrário. Das intervenções artísticas que compreende até à própria estrutura do Walk&Talk – há um empenho em construir uma rede-rizomática colectiva em São Miguel, que extravasa tanto Ponta Delgada como eixo central, quanto as entidades artísticas como núcleos culturais. Isto é, percorremos a ilha para visitar exposições, performances, concertos e excursões entre vários espaços, atendendo às suas diferentes missões – desde o Museu Carlos Machado à Galeria Fonseca Macedo; do Centro Cultural da Caloura à Vaga – Espaço de Arte e Conhecimento; do Magma ao Centro Cultural Municipal; do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas ao Museu da Lagoa ou ao Convento dos Franciscanos; do Solar de Nossa Senhora do Pilar à Boa Fruta – Plantação de Ananases ou ao Ateneu Comercial. As inter-relações não se dão apenas no plano institucional-espacial, mas também na esfera geracional, traduzidas num diálogo constante com o passado-presente. A bienal não se fez apenas de novas comissões nos espaços referidos, mas de correlações com as coleções e com o trabalho lá feito por outras gerações.
É esta a tecedura à qual aludo no título, uma trama de pontos e pontes, de nós (ligação, enlace) e de nós (pronome pessoal, primeira pessoa do plural). Mas falo de outra tecedura também — a técnica milenar da tecelagem, conservada e alimentada pelo ensinamento da mão de um(a) ancião. Inês Coelho da Silva & Kita Rancaño Ward, em Gossip and the Commons, reclamam não só esse ensinamento pela mão, mas pela bisbilhotice e pela canção. A oralidade, na transmissão de conhecimento não institucionalizado, pode ser uma das formas mais simples (e potentes) de fazer comunidade. Enquanto a mão aprende por espelho, a voz fica livre para ensaiar outras formas de nos relacionar. Através de oficinas comunitárias conduzidas pelas membros do Avó Veio Trabalhar, teceu-se uma escultura com plantas voluntárias (ou invasoras), mais tarde oferecida às vacas, nossas vizinhas, a quem tanto tiramos neste ciclo de dar e receber. No Museu da Lagoa, apresentou-se um vídeo com toda a conversa, a oferta e a canção. Também conhecemos as avós, que cantaram para nós.
Ainda a pensar sobre trabalhos que evidenciam inter-relações, não poderia deixar de mencionar, mesmo que brevemente, as paisagens fotografadas por José Pedro Cortes. Entre o corpo humano e os corpos insulares atlânticos, traçam-se paralelismos formais que evidenciam analogias e diferenças locais, a níveis globais.
3. Em tempos disseram-me que, para ver constelações, é preciso ligar os pontos com um fio narrativo invisível. (...) Sabiam que habitat é um verbo e não uma localização?
Este saber milenar ou popular, knowing without knowledge, ocupa grande parte das preocupações das intervenções artísticas da Bienal, uma vez que, hoje, pode ser das únicas formas de construir os tais outros mundos. O colectivo RESOLVE, por exemplo, apresenta no espaço Vaga a exposição Galavanting, termo da diáspora relacionado com ‘traquinice’ — e como esta palavra, ressignificada, pode exprimir processos de aprendizagem alternativos.
Também Giovanbattista Tusa, em The Art of Ecstasy, Mysticism at Work, trabalha em torno de uma ecologia mística, onde é preciso pensar sem conhecimento para experimentar outros tipos de pensamento. Numa leitura que parte de uma investigação mais ampla sobre a transformação e alquimia, Giovanbattista insiste na possibilidade de permanecer num mundo do qual, cada vez mais, queremos escapar. O misticismo, tornando-nos capazes de receber sinais de outras esferas ou outros reinos, permitir-nos-ia aprender atendendo à falha e a uma prática que des-objetifica lugares, seres e saberes, abandonando qualquer tentativa de taxonomização ou de petrificação do mundo.
4. Na verdade, a montanha é considerada imóvel devido a uma ilusão de óptica. Mas a montanha sempre foi uma onda, sabiam?
Sobre agências e lugares (não) petrificados, destaco dois trabalhos audiovisuais: Aclarar, de Isabel Medeiros, e Sulphur Edges, de Meg Stuart. No primeiro, os avós da artista açoriana conversam sobre a erupção do Vulcão dos Capelinhos (1957, Ilha do Faial). O ensaio visual-poético vai além do relato do acontecimento, ao qual o acesso está limitado por imagens de arquivo degradadas por fungos, e foca-se sobretudo na narração memorial da relação do casal com esse corpo imenso e tenebroso com o qual conviviam e que esteve em chamas durante mais de um ano. Num diálogo informal, o avô dizia: “dava a impressão de que era uma pessoa que estava enterrada, (…) que tem que respirar a qualquer custo”. A avó, enquanto isso, recordava o seu quotidiano: “ia para a escola, coitada de mim, cheia de medo. Chegadinha às paredes, (…) porque a escola era por baixo da Igreja dos Cedros. (...) O vulcão ouvia-se nos cedros, não era?”.
No segundo, a coreógrafa estadunidense ativa lugares petrificados através de corpos coreografados. Ou talvez faça justamente o contrário: a ativação de corpos petrificados através de lugares coreografados, atendendo às paisagens geotérmicas de São Miguel: fontes termais, piscinas públicas à beira-mar, rochas vulcânicas, vestígios de minas e as ruínas do Hotel Monte. O filme, com o olhar e a sensibilidade de Aline Belfort na câmara e edição, recorda-nos, de imediato, da famosa frase do geógrafo Yi-Fu Tuan: “um espaço torna-se um lugar quando, através do movimento, investimos nele com significado”. Cada gesto, nesse sentido, deixa de ser sob controle para ser, ao contrário, fruto de uma colaboração intuitiva. Deitados, hipnotizados pelo filme, começamos a compreender que o primeiro gesto não é humano, mas proposto pelo espaço, pelo terreno mundano. Depois, sim, pelo humano, guiado pela direção ao vivo de Stuart. Só depois do movimento, do aquecimento – pelo clima, pelo vento, pelo calor e pelo tempo. Ao sermos observados por olhos atentos, mudamos o movimento, performamos o deslocamento, somos condicionados e acolhidos.
5. Contou-me sobre uma planta que viajou o mundo escondida a bordo de um navio, depois apanhou boleia nas rodas de jipes, e o seu estatuto de alienígena tornou-a uma convidada indesejada no terreno, uma espécie invasora. A planta foi autorizada a ficar apenas depois de se tornar alimento para os búfalos.
Também se pensou sobre pós-colonização. Aqui refiro-me, particularmente, à performance de Ebun Sodipo e à investigação de Mae-Ling Lokko. O texto íntimo de Ebun conduz-nos sobre uma história de colonização do sexo, da sexualidade, da pertença e da identidade. Ao interpretar Vitória, uma mulher trans, raptada do Benim e escravizada em São Miguel, em 1556, confronta-nos com um desejo (sádico, que parte da dor) que oscila entre o poder de se nomear (construir significado) e o poder de se proteger (propriedade privada). Lokko, em Smooth Cayenne Notes, trabalhou em torno da produção de ananases. Nos Açores, estes são da mesma linhagem que os do Gana e das Filipinas, de onde a artista e arquiteta é natural. Ao estudar o processo de identificação de amizades e rotas — isto é, da procura de outras espécies e plantas que entram em contacto com o ananás isolado em monocultura —, descobriu que é depois da sua “morte” que se torna abundante e solidário. No Gana, o ananás, de alto valor, colabora com o sorgo, de baixo valor, não só para a alimentação do gado, mas na produção de vários pigmentos que tingem os têxteis (pendurados em grelha, como a arquitetura da estufa) que a artista nos apresenta, ao lado dos ananases. A abundância é, de facto, solidária. As espécies invasoras somos nós.
6. Ah, sim, nessa mesma noite adormeci a pensar que colapso também é uma revolta. Ontem o meu amigo enviou-me um link para um mapa em que pontos vermelhos mostravam as localizações de incêndios ativos por todo o mundo. E comparou-o a Prometeu, que desafiou os deuses ao roubar o fogo e dá-lo à humanidade.
Odete, numa palestra-performance-DJ set, no Ateneu Comercial, projetava exatamente o mesmo, enquanto nos pedia que dançássemos: “Os nossos deuses são vingativos porque são temidos. Carregamos dentro de nós todos os outros que foram reprimidos – e eles recusam-se a continuar assim. (…) Que os homossexuais ardam por dentro e destruam o mundo”. Se houvesse espaço, valeria desenvolver mais sobre o vídeo de Nadia Belerique, a investigação de Lucy Bleach, ou mesmo a performance participativa de Helle Siljeholm. Entre o quotidiano masculino da pesca do atum; um buraco fantasioso num quintal da Tasmânia, que comunicava com os Açores através de rastos infrassonoros; e a relação subaquática e mística com um vulcão que já não entra em erupção, compreendemos que a abundância não é alegórica, nem necessariamente parte da retórica capitalista. É queer, feminista e intimista. Local, global e real. E como bem diz o Comité Invisível, “o real é aquilo que resiste”.
A bienal acontece entre 25 de setembro e 30 de novembro de 2025, com mais diversos momentos em que se concentram excursões, workshops, simpósios (7 a 9 de novembro) e um programa de encerramento (28 a 30 do mesmo mês).
7. Oh não, não havia metáforas no filme, mas a atuação era espectacular. O protagonista principal era um proletário celular, que trabalhava incansavelmente para te produzir de dentro para fora, como eu. Todas as noites sonhava em sabotar criativamente o futuro que lhe foi imposto.
1 Em termos derridianos – um gesto que constrói enquanto desorganiza.
2 Como apelam Deleuze e Guatarri.
3 Plaza Lazo, M.I. (2025) Art critique as midwifery of a shifting consciousness, Arts of the Working Class. Disponivel em <https://artsoftheworkingclass.org/text/art-critique-as-midwifery-of-a-shifting-consciousness>.
BIOGRAFIA
Benedita Salema Roby (n. Lisboa) é licenciada em História da Arte (2019) e mestre em Estética e Estudos Artísticos (2022) pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa com a dissertação "Graffiti: Considerações Acerca da Estética da Transgressão no Espaço Público da Cidade". Actualmente, encontra-se a realizar o doutoramento em Estudos Artísticos — Arte e Mediações na mesma instituição, onde desenvolve, com financiamento da FCT, uma investigação centrada no potencial de libertação societal e coletiva em torno de práticas (artísticas) transgressoras, como o graffiti e a pichagem política. Sobre este tema, também participa na realização de documentários e organiza oficinas de prática e pensamento orientadas para jovens. O seu projeto de tese, intitulado "A Desconstrução da (experiência da) Cidade e a Construção da Esfera Contra-Pública: Escrita Criativa Transgressiva, Estética e Política", é orientado por Cristina Pratas Cruzeiro e Joana Cunha Leal. Para além de publicações académicas, escreve sobre artistas emergentes e exposições de artes plásticas e performativas para revistas independentes, como a Umbigo e a Sem Título.
PUBLICIDADE
Anterior
article

29 Out 2025
7ª edição do Lisbon Art Weekend, de 6 a 9 de novembro
Por Umbigo
Próximo
article

30 Out 2025
Arte Jovem Fundação Millennium bcp 2025
Por João Pedro Soares
Publicações Relacionadas