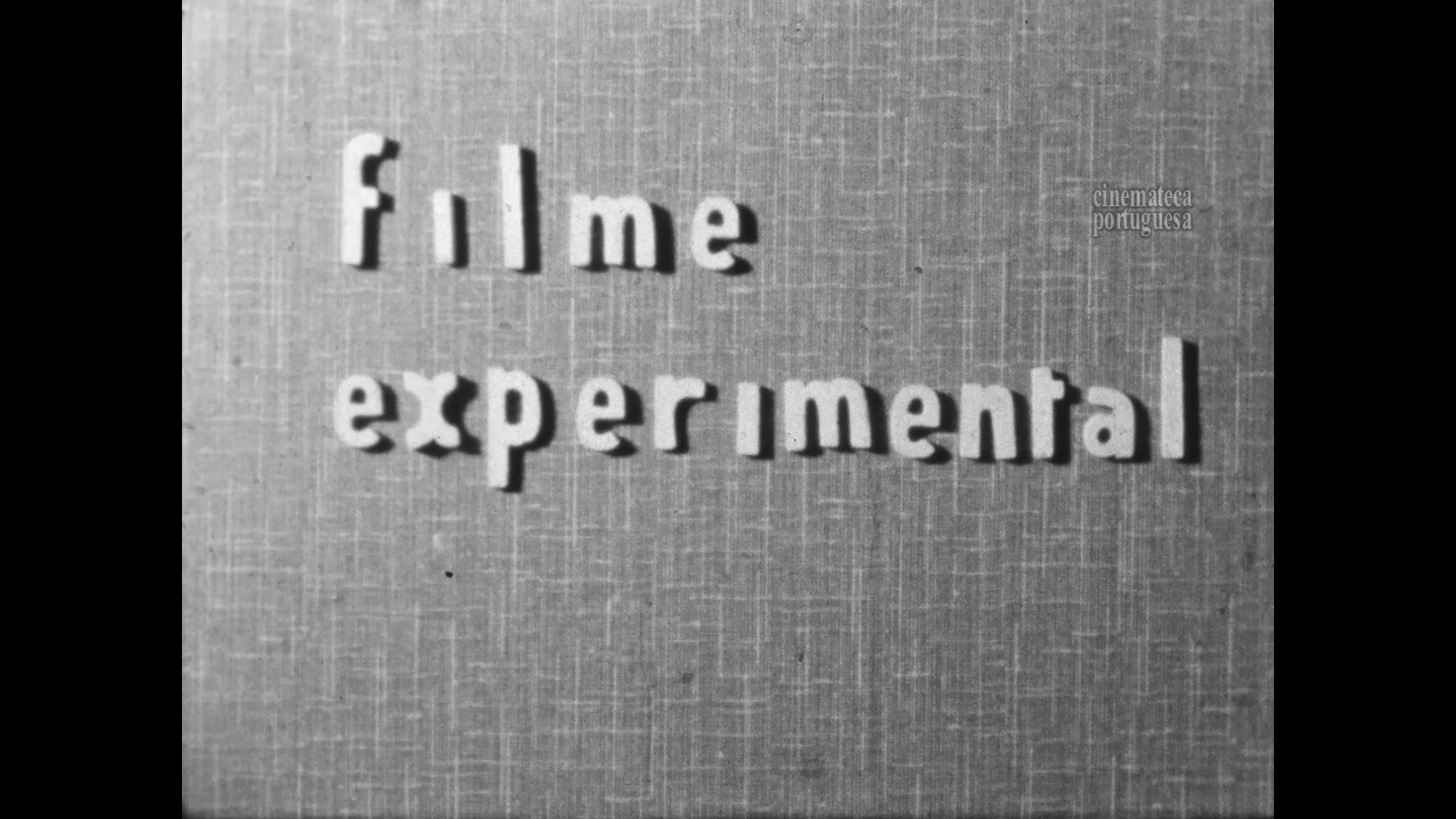Maria Inês Mendes: À data em que conversamos estás em São Paulo, onde acabas de encerrar a tua mais recente exposição Tem canto o olho que vê, em conjunto com Leka Mendes. Começo, então, por te perguntar sobre esta exposição. Como surgiu este projeto e o encontro entre as vossas obras?
Dalila Gonçalves: Conheci a Leka Mendes na residência artística que fiz no atelier Fidalga, em 2023. São vários os artistas que conheci nesse período e que agora são meus amigos. Com a Leka mantive um diálogo constante desde essa altura: ela ajudou-me na exposição que fiz no Consulado de Portugal em São Paulo e fomos sempre trocando ideias de projetos. Mais tarde, quando ela foi fazer uma residência em Lisboa e em Paris, visitou o Porto, ficou no meu atelier e os laços foram-se estreitando. Agora, quando tive oportunidade de expor no Massapé, com o apoio do programa Shuttle da Câmara Municipal do Porto, convidei-a para expor comigo. Acabou por ser uma exposição baseada no diálogo entre duas artistas, duas amigas que têm em comum a coleção, a recolha de objetos do quotidiano, a sua manipulação e resignificação poética, mas também o humor. Foi um processo marcadamente experimental que transpusemos para a exposição. Durante os dias de abertura ao público, fomos alterando a disposição das peças, colocando e tirando obras. Convidamos o Jacopo Crivelli Visconti para acompanhar o projeto e escrever um texto que captou por palavras esta dinâmica de trabalho e de amizade. Foi uma experiência muito interessante, creio que para ambas. Ficamos com ainda mais vontade de fazer outros projetos em conjunto num futuro próximo.
MM: Vi algumas fotografias da exposição que me levaram a refletir sobre uma relação de afinidade entre as vossas obras. Parece-me que ambas trabalham sobre o escombro, sobre a ruína, servindo-se de objetos que vão encontrando e que, de certa forma, são despidos da sua funcionalidade. A peça Trinca Ferro da Leka, por exemplo, lembra-me a tua peça Sinfonia de Vapor, que integra esta capa do Mês. Em ambos os casos, vemos estruturas metálicas contorcidas que parecem ligadas a algo invisível, anunciando uma espécie de presença fantasmagórica que pontua o espaço. Dirias que esta é uma aproximação possível entre o vosso trabalho?
DG: Curiosa essa relação, sim é possível, não tinha pensado nisso. Como disse, ambas coletamos objetos, de alguma forma descartados de função, ou, mais no meu caso, objetos no limbo entre a utilidade e o obsoleto, entre o presente, a memória e o esquecimento. Na manipulação dos objetos em atelier há, de certa forma, em comum esse "destino" fantasmagórico e onírico que referes. Claro que, de forma mais ou menos consciente, o que recolhemos tem muito a ver com os lugares onde circulamos, trabalhamos, crescemos. Em muitos dos trabalhos da Leka, diria que é possível perceber que se move numa grande Urbe, os materiais que recolhe são muitas vezes retirados dos contentores de São Paulo, de restos de tecidos de lojas de atacado. No meu caso, há uma relação estreita entre a aldeia, a natureza, a ruralidade, a cultura popular onde nasci e cresci (aldeia de castelo de Paiva), a cidade onde vivo e trabalho (Porto) e as viagens que faço. Acho que os materiais que uso refletem de alguma maneira esse trânsito
MM: A par deste projeto em São Paulo, referiste também a tua participação numa residência artística organizada pelo Projeto Fidalga. Qual é a tua relação com a cidade de São Paulo?
DG: Atualmente, São Paulo é uma segunda casa. Gostava muito de viver entre o Porto e São Paulo – que, na verdade, é o que tenho feito nestes últimos dois anos. Gostava muito de ter um espaço cá, continuo a ter essa esperança. Os meus primeiros contactos com São Paulo foram com um soloproject na SPArte, em 2017, e com a residência no Pivô, em 2018. Foi durante a residência na Pivô que visitei pela primeira vez o atelier Fidalga. Fiquei, desde logo, impressionada com o projeto, com a equipa, com a relação de proximidade que estabelecem com os artistas, como os integram na cidade e na sua rede de amigos. Nessa altura, fiquei com a porta aberta para fazer uma residência, e foi o que fiz em 2023. Diria que esta foi a melhor residência em que participei, graças à Sandra Cinto, ao Albano Afonso e a toda a equipa que trabalha no Projecto Fidalga. Têm-me tratado como uma família e ajudado nas pontes que, entretanto, fui estabelecendo com outros projectos também em São Paulo.
MM: A relação singular que estabeleces com os objetos e materiais, muito evidente na Sinfonia do Vapor e na Fonte Sonora, parece transversal à tua prática artística. Como referes na tua biografia, há na tua obra uma tendência para reorganização poética dos processos de coleção, uma sistematização, e uma inventariação dos objetos do quotidiano. Neste sentido, pergunto de que forma chegas até aos objetos que utilizas nas tuas obras (às antigas chaleiras e às cabaças, por exemplo). O que te chama à atenção?
DG: Na verdade, não sei bem explicar, há uma relação intuitiva, de algum fascínio, diria. Muitas vezes os objetos ficam anos no meu atelier, sem que saiba o que fazer com eles. Com a distância, e olhando para a maioria dos objetos e materiais que coleciono, acho que têm em comum o facto de terem marcas de uso, pressente-se uma ausência/presença, são muitas vezes objectos em desuso, outros têm características formais inusitadas. No fundo, são essas peculiaridades que procuro evidenciar, ora mostrando vários objetos similares em conjunto, ora fazendo assemblages entre diferentes artefactos enfatizando uma qualquer relação poética. No caso das chaleiras, o interesse nasce do som do apito quando a água ferve, que foi sempre um som muito presente na casa dos meus pais. Num dado momento, fixei-me na beleza do som da chaleira Alessi com o apito em forma de pássaro amarelo (um clássico da marca italiana). A ideia de o vapor ter "o poder do chamamento", da forma do animal ter o poder de transformar o som numa mimese da sua "fala", deixou-me fascinada e curiosa. Comecei por fazer um site-specific para o Fundación Rac, em Pontevedra, com duas chaleiras gigantes com pássaros na ponta, que ficavam a "conversar um com o outro" diante de uma grande janela com as árvores por trás. Nessa altura, comecei também a colecionar chaleiras usadas, continuando o meu processo habitual. Depois, foi todo um processo até conseguir colocá-las a tocar em simultâneo, controlando o som com tubos de diferentes alturas e materiais. Colecionei também pequenos brinquedos de plástico com formas de animais que passei a bronze. Associei o som de cada chaleira a um animal específico, procurando recriar o ambiente de uma floresta. A Sinfonia de Vapor reúne 28 chaleiras, de diferentes proveniências, com diferentes quantidades de água assentes em pequenos fogões, conectados a tomadas inteligentes, previamente programadas tendo em conta os tempos de fervura, arrefecimento etc. É um trabalho que continua a ser afinado, mas que, na verdade, é uma luta para tentar controlar o incontrolável. As cabaças também surgem de um acaso. Durante a pandemia vi umas cabaças nada convencionais a secar na minha aldeia, pareciam vísceras, erros da natureza, bem diferentes das cabaças tradicionais em forma de pera que conhecia. Nessa altura, comecei a procurar cabaças semelhantes entre agricultores em Portugal e no Brasil e comprei centenas... sem saber muito bem porquê, confesso. Com o tempo comecei a perceber as suas potencialidades acústicas, térmicas, formais e de impermeabilidade. Comecei a fazer exercícios de colagem que acentuavam esse caráter disforme e visceral, mas também experiências de manipulação com o objetivo de evidenciar características dos seus revestimentos e das suas potencialidades sonoras. Acabei por conceber pequenos mecanismos que substituem o manuseamento humano - as cabaças acopladas tornaram-se esculturas, instalações autónomas capazes de demonstrar por elas mesmas o som das suas sementes, da água que preservam, a ressonância dos seus volumes ocos "que fazem tocar o ar". Apresentei-as em Coimbra e fiz novas peças em São Paulo, onde também foram expostas em 2024.
MM: De onde surge este teu interesse sonoro? Pretendes, de alguma forma, (re)construir um universo onírico através das paisagens sonoras que compões?
DG: O som interessa-me enquanto característica intrínseca de um determinado objeto. Por exemplo, o som das chaleiras está intimamente ligado ao próprio objeto. Nas cabaças, e mesmo não sendo uma relação tao direta, há uma associação da cabaça ao fabrico de diferentes instrumentos e isso deve-se como é obvio às suas potencialidades acústicas. Quando digo que me interessa mostrar aquilo que define e distingue um objeto, o som é muitas vezes umas dessas características diferenciadoras, e é nesse sentido que me interessa trabalhá-lo. Na performance/instalação Colunas de Ar, que apresentei na Galeria Quadrum e no Consulado de Portugal em São Paulo, o som é parte do objeto que dá mote à performance. São centenas de ocarinas provenientes dos 5 continentes que imitam sons de animais. Essa paisagem sonora resulta também de um som inerente ao próprio material. O que faço é tentar controlar os sons que os objetos me dão e dispôs-lo de forma a acentuar o absurdo. Acho que nesses trabalhos há um botão ativador de memórias, um jogo entre o real, que reconhecemos do objeto, e o inusitado que deriva da sua disposição e apresentação.
MM: Frequentemente no discurso em torno da tua obra surge a palavra dissecação, que se refere a uma separação e análise minuciosa das partes de um todo para que possamos compreender a sua estrutura e funcionamento. Neste caso, a dissecação surge, sobretudo, como um processo de descoberta dos objetos, dos materiais, da sua plasticidade, história, função e sonoridade. Em primeiro lugar, pergunto: De onde surgiu o teu fascínio por este processo de investigação que, embora seja comum em inúmeras áreas do conhecimento, parece distante do universo artístico? Depois, gostaria também de compreender qual o teu objetivo com esta metodologia de trabalho. Estás interessada no processo - enquanto tal - ou, pelo contrário, procuras encontrar, através da dissecação, uma verdade velada nos objetos?
DG: Não sei exatamente onde surgiu esse fascínio. Na verdade, creio que vem da curiosidade em saber como são feitas as coisas, como reagem os materiais a uma determinada cor ou matéria, à passagem do tempo, à relação com outros materiais…falo sobretudo do ponto de vista processual. Sempre tive essa curiosidade não só no atelier como no dia a dia. Agora, quando falo em dissecar, falo obviamente no sentido metafórico, refiro-me à observação, ao conhecimento do objeto e das especificidades que o tornam único. As minhas peças são muitas vezes o gesto de apresentar essas singularidades - como se escavasse um túnel na montanha para dar a ver o outro lado das coisas. A poesia faz-se muitas vezes nessa linha reta, e por vezes literal, de perceção do objeto. Outras vezes acontece precisamente o contrário. Quando o objeto já tem essa leitura linear, construo caminhos à volta da montanha para mostrar que essa perceção imediata pode esconder caminhos, histórias, relações, processos mais interessantes do que o seu fim. Nesse sentido, acho que a dissecação é um processo bastante comum a vários artistas, pelo menos a ilusão que podemos encontrar "verdades veladas" num caminho processual com um olhar livre e curioso sobre o que nos rodeia.
MM: E que outros projetos se aproximam?
DG: No ano final de 2025 conto voltar a São Paulo para um projeto no espaço Fonte. No verão, vou apresentar um projeto na galeria Ocupa no Porto e, em 2026, tenho uma exposição marcada para o Kindered Projects, em Lisboa, e uma apresentação no Poush, em Paris. Aproximam-se também algumas exposições coletivas que ainda não estão totalmente fechadas.