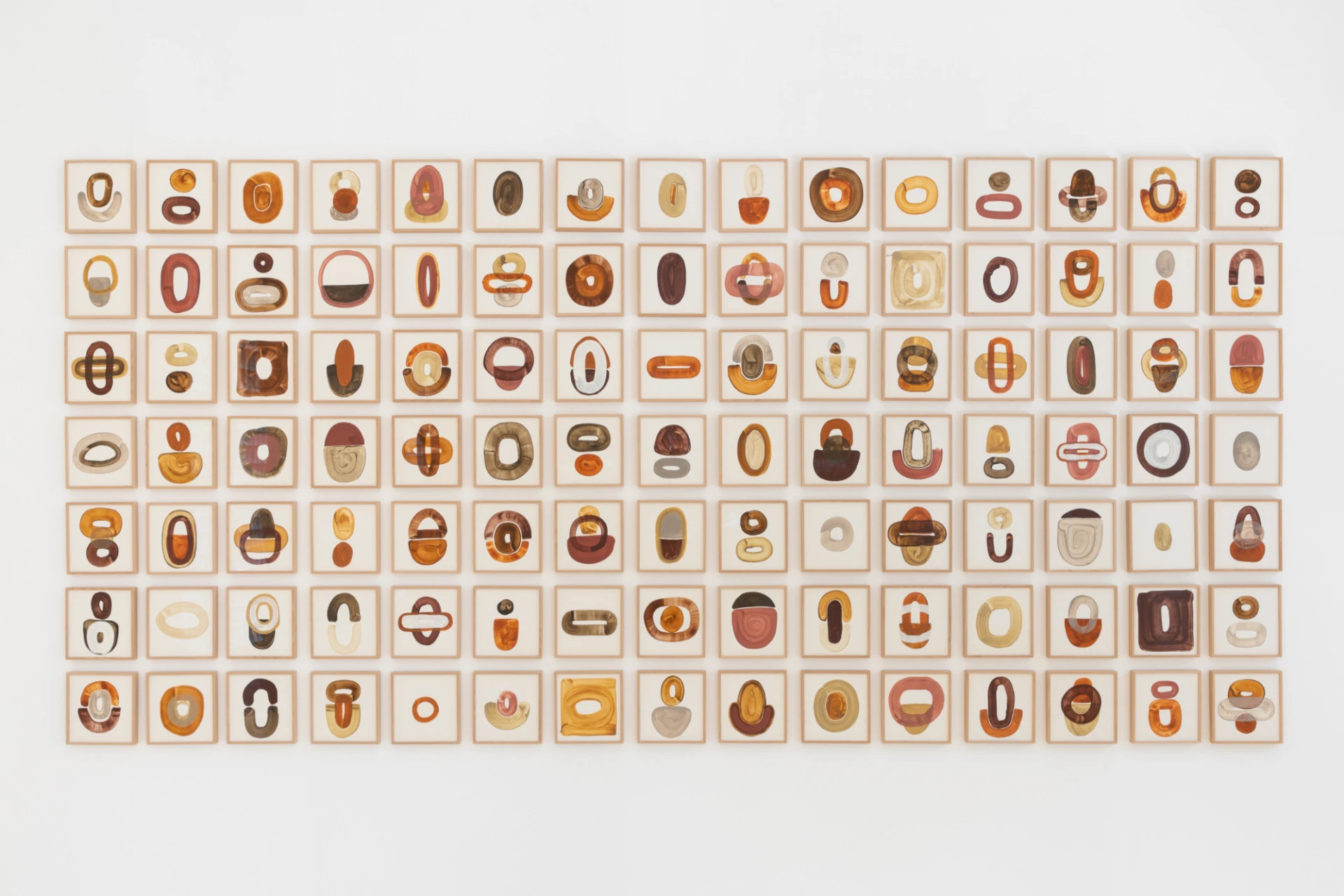Maria Inês Mendes: Estudou História da Arte na Universidade de Bristol. O que a levou inicialmente a tornar-se curadora? Foi o desejo de trabalhar diretamente com artistas?
Chrissie Iles: Se estudarmos História da Arte, há muitos caminhos que podemos seguir. No meu caso, queria trabalhar diretamente com artistas e servir de mediadora entre o seu trabalho e o público. Os curadores trabalham com os artistas, por um lado, e com o público, por outro. Vejo o curador quase como uma espécie de editor ou de tradutor. Depois, tenho também muito interesse no espaço físico da exposição, na forma como poderemos mostrar uma peça e na possibilidade de construir uma experiência que, mais tarde, será apresentada ao público. O meu envolvimento com artistas no campo da História da Arte fez com que me entusiasmasse com a ideia de desenvolver um diálogo duradouro com os artistas. E assim a curadoria acabou por surgir muito naturalmente.
MM: Durante a sua carreira como curadora, trabalhou em vários espaços de arte, alguns mais alternativos, como a Waterloo Gallery, e outros mais institucionais, como o Whitney Museum, onde é curadora há mais de 20 anos. Ainda assim, a sua abordagem à curadoria parece-me bastante experimental. Qual o nível de experimentação que uma instituição como o Whitney Museum lhe permite? E, também, como é que esta dimensão experimental pode ser introduzida num grande espaço institucional?
CI: Acima de tudo, temos de ser criativos, começando sempre por ouvir o artista. Mas também temos de dialogar com a instituição, pensar sobre os seus limites, a sua estrutura e também sobre diferentes formas de os ultrapassar, alterando os parâmetros dessa mesma instituição. No caso do Whitney Museum, estamos a falar de uma instituição que se dedica maioritariamente à construção de uma coleção, mas que também organiza exposições. Há muitas perguntas que poderemos colocar: Como podemos ser criativos em relação ao que artista aqui pode fazer? Em muitos casos, a resposta passa pela utilização do espaço físico do nosso edifício: o artista pode querer fazer uma peça fora ou à volta do edifício, uma performance que, de alguma forma, se sirva também do espaço. Outras vezes, a resposta pode estar num campo mais conceptual, na forma como se trabalham determinadas temáticas em torno do arquivo da instituição. Na minha experiência pessoal, diria que este trabalho experimental dentro da instituição se deve, em parte, à possibilidade de construir uma coleção de imagens em movimento que ultrapassa os limites da instituição de várias maneiras. Mas também se deve muito ao trabalho com os artistas, que nos apresentam constantemente diferentes ideias sobre as instituições que podemos tentar concretizar dentro dos seus próprios limites.
MM: Numa entrevista anterior, creio que à Another Mag, mencionou que David Elliot, na altura diretor da Modern Art Oxford, foi um mentor no seu desenvolvimento como curadora. Neste sentido, gostaria de perguntar: como se aprende a ser curador? Acha que esta atividade implica um certo nível de intuição?
CI: Acho que aprender a ser curador é uma mistura de muitas coisas. Quando comecei, não havia cursos de curadoria como há agora, então a orientação era duplamente importante. Acho que os cursos de curadoria - e eu sou professora em dois deles, no Center for Curatorial Studies, no Bard College, e na School of Visual Arts - são muito relevantes, mas só podem levar-te até um certo ponto. O que fazes depois de terminar o curso? Essa é a pergunta. E, então, percebes que a orientação e a mentoria são muito importantes. Eu tive a sorte de encontrar um mentor que me pudesse orientar e ajudar. Mas a intuição também é uma parte muito importante de ser curador, assim como a empatia. E também ter uma perspetiva alargada sobre o tempo e a história da arte. Os mentores ajudam-nos, sobretudo, a aprender a lidar com os artistas, a ser diplomáticos e a treinar o nosso olhar. Às vezes, sinto que os cursos de curadoria se apoiam demasiadamente na teoria, mas, na verdade, uma parte muito importante de montar uma exposição é precisamente uma intuição espacial. É uma mistura de todos estes fatores. E há muitas coisas que só se pode aprender acompanhando alguém que já sabe como as fazer.
MM: Embora tenha sido curadora de várias exposições, nomeadamente de Sol LeWitt, Marina Abramović, Louise Bourgeois e de Donald Judd, a sua carreira está claramente focada na videoarte e no cinema experimental. Entre outros exemplos, destaca-se a exposição “Into the Light: The Projected Image in American Art 1964 – 1977”, que foi a primeira retrospectiva de filmes históricos e instalações de vídeo na América. Depois de muitos a desenvolver este trabalho de mapeamento, consegue dizer-nos qual o papel da imagem movimento na História da Arte Americana?
CI: Desde a sua invenção, a imagem em movimento sempre desempenhou um papel importante no pensamento artístico e, posteriormente, na história da arte. Nos séculos XX e XXI, os artistas adotaram a câmara como uma forma de pensar e de experimentar. São poucos os artistas que nunca pegaram numa câmara ou experimentaram com imagem em movimento. Todas as outras formas de arte se cruzam com a imagem em movimento e, portanto, esta torna-se um dispositivo de experimentação interdisciplinar que ocupa realmente um papel muito importante no pensamento artístico. Por vezes, a imagem em movimento é cinematográfica; outras vezes é escultural, pictórica. No fundo, a sua fluidez permite que seja explorada de muitas maneiras diferentes.
MM: A sua abordagem à história das imagens em movimento parece não ser cronológica. Na conferência de ontem, integrada na programação da Porto Summer School, organizada pela Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, mencionou dois temas centrais para pensar a imagem em movimento: a decolonização do ecrã e o espaço háptico. Neste sentido, pergunto quais os principais temas que considera urgentes mapear, estudar e arquivar no no presente?
CI: Na verdade, a razão pela qual escolhi a decolonização do ecrã e o espaço háptico para discutir na conferência de ontem é porque acho que essas são as suas questões mais importantes, na atualidade, para a imagem em movimento. Em primeiro lugar, e à medida que a tecnologia avança, temos de garantir que a história é escrita não apenas por artistas brancos, mas por artistas de todo o mundo. A maioria das pessoas no mundo não é branca e são elas que produzem a maior parte da arte. É importante lembrarmo-nos sempre disso, especialmente quando estamos a construir uma coleção para uma instituição. Além disso, a imagem em movimento é uma prática global. Isto é particularmente importante na América, onde o cinema sempre foi racializado — os negros não podiam ir ao cinema, tinham de ir a cinemas diferentes, segregados. O segundo ponto que mencionei foi o espaço háptico. Acho que a tecnologia, as redes sociais e os telemóveis estão a achatar a experiência das pessoas em relação ao espaço. As pessoas andam pela rua a olhar para os seus telemóveis, tudo gira em torno daquele pequeno ecrã. E como estamos sempre imersos nestes ecrãs, estamos a perder a capacidade de compreender o espaço físico como real: pensamos nele sempre em relação ao ecrã. E isso é um problema. Acho que o swapping e o scrolling estão a afetar a forma como nos relacionamos com o espaço físico. Somos confrontados com pinturas, com esculturas, e passamos por elas rapidamente como se estivéssemos a fazer scrolling no espaço expositivo. A instalação de imagens em movimento permite-nos abrandar. Traz-nos de volta ao espaço físico, a uma relação muito tátil com o meio envolvente. E os artistas, através dos ecrãs — há muitos tipos diferentes de ecrãs, feitos de tecido, metal ou madeira —, estão a explorar diferentes formas de nos aproximar novamente do espaço físico. Com isto não me refiro a um espaço imersivo em termos de espetáculo ou de sensação, mas sim a um enraizamento com o espaço que nos envolve.
MM: Além de curadora, está também à frente da construção da coleção permanente de imagens em movimento do Whitney Museum. Acho particularmente interessante ter mencionado que, acima de tudo, o seu objetivo com esta coleção é criar ferramentas para os curadores do futuro. Esta é uma coleção que procura claramente construir uma visão global e não eurocêntrica da História da Arte. Acha que o facto de ter nascido e passado alguns anos no Médio Oriente contribuiu para essa perspetiva?
CI: Sim. Eu nasci em Beirute. Viver no Médio Oriente e frequentar escolas internacionais durante os primeiros 10 anos da minha vida expôs-me, desde cedo, a uma perspectiva não europeia sobre a história e sobre a cultura. Sinto que esta experiência me fez compreender a história de forma diferente. Acima de tudo, ajudou-me a compreender o presente e o trabalho que os artistas estão a desenvolver. Porque, no fundo, os artistas estão sempre a olhar a história e a repensá-la. Olham para a história antiga, para a história moderna, para a história relacionada com as suas famílias e os seus países, a história geopolítica, a história cultural, etc. Ter uma perspetiva não europeia impede-nos de impor uma visão ocidental à arte asiática, à arte do Médio Oriente, seja qual for o tema com que estamos a trabalhar.
MM: Perante um período de agitação política e escalada da violência internacional, qual acha que é o papel da curadoria e das grandes instituições como o Whitney Museum?
CI: Acho que o papel da curadoria é oferecer perspetivas culturais para modelar formas alternativas de trabalhar, pensar e criar em conjunto. Criar uma paisagem cultural internacional e em diálogo uns com os outros, que procure pensar novos modelos de pensamento crítico conjunto. E acho que é por isso que a arte é tão poderosa. Porque as pessoas procuram a arte tanto para se inspirarem como para refletirem sobre o mundo à sua volta. Porque procuram a arte para verem de que forma os artistas estão a modelar o mundo à sua volta. Sinto que, através de diferentes perspetivas e diálogos curatoriais, podemos modelar uma forma diferente de nos relacionarmos.
MM: A sua abordagem é muito interdisciplinar, situando-se algures entre a escultura, a instalação e a imagem em movimento. Além da escultura e da instalação serem influenciadas pelas imagens em movimento, e vice-versa, acredita numa espécie de consciência proto-cinematográfica que existia antes da invenção do cinema? Ou seja, que o cinema é uma prática expandida que não se limita ao aparelho cinematográfico, mas que culmina necessariamente nele.
CI: Com certeza. Há muitas evidências de ideias proto-cinematográficas que os artistas estavam a explorar. Acho que as ideias de sombra e luz, e também as ideias de narrativa, são centrais para refletir sobre essa consciência proto-cinematográfica. Na Renascença, por exemplo, quando os artistas estavam a aprender a desenhar, faziam-no escolhendo um objeto e projetando luz de vela sobre ele. Eram criadas sombras, e as sombras são importantes para compreender a forma física e o volume. A maior parte da arte foi criada antes da eletricidade e, por isso, a relação entre a luz e a escuridão e a forma como se lida com diferentes níveis de luz foi muito importante para o desenvolvimento da pintura e escultura até ao século XIX. Podemos também dizer que as mesquitas no Médio Oriente, por exemplo, ou as igrejas barrocas nos conduziram ao cinema. A forma como a luz entra pela janela e se projeta no espaço parece-me bastante relevante. Além disso, as pinturas panorâmicas e os trípticos da Idade Média. E também as pinturas de Giotto, por exemplo. Estas pinturas são quase imagens em movimento: mostram-nos uma procissão de diferentes eventos ao longo do tempo. Todos estes diferentes elementos que vemos ao longo da história da arte estão muito relacionados com o que a invenção da câmara viria a possibilitar.
MM: Durante o Porto Summer School também referiu que mostrar imagens em movimento no contexto de um museu ou de uma galeria é um desafio, nem sempre resolvido da melhor forma. Que tipo de estratégias acha que podem ser implementadas para exibir imagens em movimento dentro do espaço da galeria?
CI: A primeira coisa que os curadores têm de compreender é o espaço. Tal como as pinturas e as esculturas, as imagens em movimento também interagem com o espaço à sua volta. Os curadores e as instituições precisam de refletir sobre as condições de visualização: o público deve poder sentar-se confortavelmente enquanto assiste a um filme dentro do espaço da galeria. Mas tudo depende também da intenção do artista. Às vezes, os artistas querem que o público passe algum tempo com a obra; outras vezes, querem que o público caminhe entre diferentes projeções. Acima de tudo, os curadores devem prestar atenção ao que os artistas pedem e não ver as suas exigências como um problema. Portanto, menos bancos e mais lugares confortáveis para sentar. Nunca optar por auscultadores, porque ninguém os usa. Não ter medo do som e ouvir os artistas. E, finalmente, considerar a relação entre o artista, a obra de arte e o público — o curador está sempre situado algures neste diálogo. O curador deve ser capaz de adaptar a experiência que o artista quer proporcionar ao espaço com que está a trabalhar. No caso das instituições, aquilo que estas devem pensar é como fazer com que o espectador abrande. Andamos todos a consumir demasiado depressa. E isto aplica-se tanto à pintura como à imagem em movimento.
A entrevista foi realizada na sequência de uma conferência com a curadora durante a Porto Summer School on Art & Cinema 2025, organizada pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, que decorreu entre os dias 30 de junho e 4 de julho, no Porto.