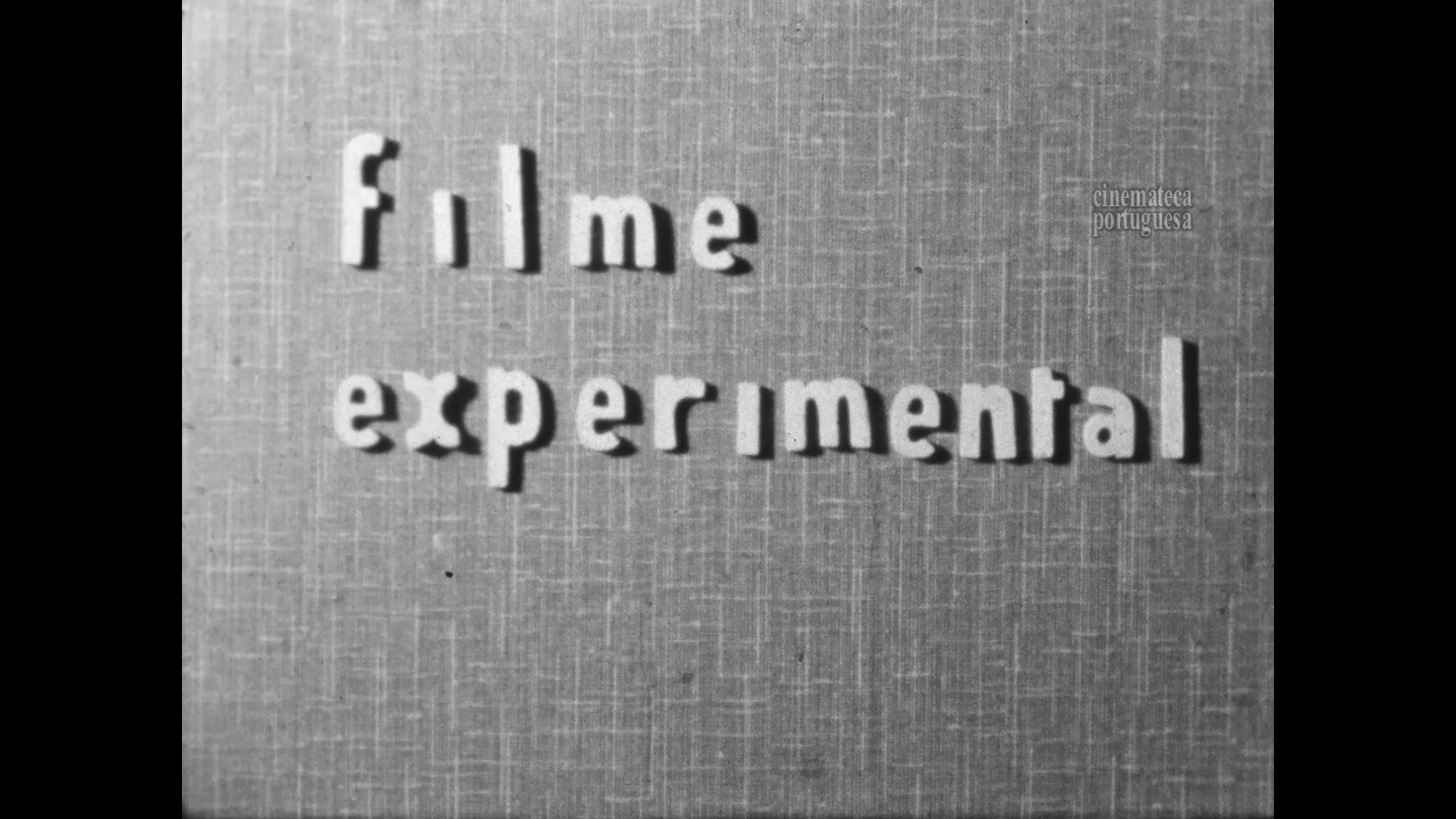article
O que nos olha?, no MAAT
What Looks At Us [O Que Nos Olha] é o título da primeira exposição de Miriam Cahn (Basileia, n. 1949), uma destacada figura no panorama da arte contemporânea, em Portugal. Acolhida pelo MAAT, na sequência da sua anterior apresentação no Palais de Tokyo (Paris), esta exposição reúne uma vasta seleção de instalações, vídeos, aguarelas e pinturas a óleo. São obras que abrangem diferentes períodos da sua carreira, construindo um percurso pelas temáticas que pontuam o seu imaginário artístico: o corpo, a violência de género, as crises migratórias e também os conflitos armados.
Não precisava de tanto, duas cintilações lhe bastariam, dois olhos, e eles lá estavam.
(A Caverna, de José Saramago)
Somos lançados para a exposição sem qualquer enquadramento prévio. No entanto, o seu título parece ser, desde logo, esclarecido pelas pinturas que se alinham no corredor que nos conduzirá ao espaço expositivo. Agrupadas sob o mesmo título — um gesto que traduz a compulsão da artista para pensar as suas obras em conjunto —, revelam-nos o seu próprio corpo nu. De um traço vigoroso, quase infantil e de execução rápida, emergem figuras de contornos esbatidos, presenças quase fantasmagóricas que nos devolvem o olhar e nos detêm à entrada da exposição.
O que nos olha? São os olhos da artista, cintilantes, redondos e horrorizados. Mas a exposição não se refere apenas aos corpos que sobre nós repousam o olhar. O que nos olha são também as preocupações políticas que embebem estas telas. Influenciada pelas reflexões feministas das décadas de 1970 e 1980, Miriam Cahn adotou, desde cedo, uma abordagem radical ao papel e às imagens associadas e impostas à mulher ao longo da história da arte. Neste contexto, destacam-se as suas pinturas de nus femininos: corpos dobrados, grotescos, flutuantes, com o rosto desfigurado ou coberto. Multiplicam-se as representações de corpos envelhecidos, mas também as imagens de amamentações e de partos — gráficas, sanguinárias e, sobretudo, ausentes da história da arte. Note-se, no entanto, que esta ausência não é casual. Foi após o Concílio de Trento, em meados do século XVI, que a Igreja passou a condenar a representação do corpo feminino em gestos de nutrição ou prazer, apagando da iconografia cristã a Madonna lactans, figura da Virgem que amamenta. O corpo feminino, simultaneamente sagrado e objeto de desejo, foi sendo progressivamente censurado, reprimido e disciplinado. É neste sentido que uma das imagens da exposição — um corpo coberto por um niqab, mas com os seios e a genitália expostos — se torna particularmente incisiva. Esta pintura é uma provocação deliberada que incita uma reflexão sobre as imposições que, de uma forma ou de outra, recaem sobre estes corpos. Afinal, sobre a mulher recai a obrigação de se cobrir com um véu — mas também, e paradoxalmente, a de o retirar se assim for determinado. O corpo da mulher é regulado por um duplo comando: ocultar-se ou exibir-se, sempre em função do olhar do outro.
Estes corpos de Miriam Cahn colocam em evidência um prazer voyeurístico que implica, quase sempre, um objeto erótico submetido à contemplação curiosa do outro. Segundo Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), de Laura Mulvey — autora que estudou a influência da sociedade patriarcal na construção dos modelos de produção do cinema clássico de Hollywood —, a mulher surge frequentemente como um objeto passivo a ser olhado. É o homem, portador da visão, o elemento ativo que projeta as suas fantasias sobre a representação da figura feminina. Mas esta tipologia de olhar não poderá ser indiscriminadamente aplicada à generalidade das situações sociais. Em O que nos olha, a mulher não se oferece como objeto de contemplação erótica. Pelo contrário, as figuras femininas nas telas de Miriam Cahn recusam os estereótipos da beleza projetados para satisfazer o prazer masculino e subvertem a estrutura assimétrica do olhar. Subjacente a estas obras está um reconhecimento da mulher como elemento ativo do olhar — uma posição que recupera, por exemplo, a discussão em torno da obra In the Loge (1878), de Mary Cassatt, onde uma mulher, sentada no balcão de um teatro, observa o que está diante de si através de um par de binóculos sem, no entanto, devolver o olhar a quem a observa. E se, por um lado, esta perspetiva poderá ser excessivamente binária, impele reconhecer que esta surge à luz das reflexões feministas da época, enquadrada numa experiência pessoal e política situada. Em último caso, este jogo de olhares não diz apenas respeito à tipologia do olhar numa sociedade patriarcal, mas traduz também uma inversão da lógica do espectador no espaço expositivo — perturbado pelos rostos horrorizados que o fixam e destituído da passividade que lhe foi atribuída a priori.
Ao longo da exposição, são vários os núcleos que se debruçam sobre o desequilíbrio da distribuição de poder e sobre a violência, quer a uma escala individual, quer a uma escala coletiva. Logo no início, encontramos uma série de aguarelas que representam cogumelos atómicos, funcionando como uma espécie de manifesto anti-nuclear. A delicada paleta de cores e a transparência das aguarelas contrastam com a brutalidade da temática representada - e é precisamente desse confronto que emerge a sua potência simbólica. Mais adiante, numa outra sala da exposição, deparamo-nos com um conjunto de pinturas a óleo e desenhos de pequena e grande escala que reúnem imagens de aviões de guerra, helicópteros utilizados durante o conflito do Vietname, tanques, explosões, mas também o gesto de esmurrar, de violar, de pisar - no fundo, todos os objetos e ações que poderão ser compreendidos como máquinas de matar. Estes elementos reúnem-se em constelações concebidas pela própria artista no espaço expositivo, revelando uma continuidade entre a sua obra e o processo de montagem, assumido aqui como uma extensão da prática artística.
A questão da violência à escala coletiva ressurge nos seus trabalhos sobre o ataque do Hamas, apresentados na secção WEINENMÜSSEN, e na sala UNDASTELLAR, onde o foco recai sobre as migrações, os afogamentos no Mediterrâneo e os recentes massacres na Ucrânia. Nascida numa família judaica, a artista parte das suas experiências traumáticas, o que poderá contribuir para uma perspetiva, por vezes, unilateral e plana dos fenómenos geopolíticos. Ainda assim, essa abordagem não compromete a força nem a pertinência das suas representações, que situam a prática artística no centro do comentário crítico sobre a contemporaneidade. A este propósito, atentamos algumas pinturas onde vemos corpos arrastados, amarrados, que flutuam (ou se afogam) sobre um fundo azul — uma referência direta à crise dos refugiados. As obras, de estética inacabada e gestual, com tons vibrantes e um lirismo que se opõe uma vez mais à brutalidade do conteúdo, lembram a obra Les Noyés (1938), de Maria Helena Vieira da Silva, que - embora utilize uma paleta de cores mais sombria - nos remete também para esse limbo entre o abandono à morte iminente e a luta pela sobrevivência.
Ainda nesta sala, vemos Fuck Abstraction!, concebida após a circulação de algumas imagens do massacre de Bucha (Ucrânia) e dos relatos de violações perpetradas por soldados russos. A atrocidade é pouco detalhada, mas ainda assim evidente. O corpo do violador — musculado, implacável e sem rosto — surge sobre uma figura de menor dimensão, um homem ajoelhado e com as mãos atadas. Exposta anteriormente no Palais de Tokyo, esta obra foi alvo de uma série de interpretações que a identificavam como representação de abuso infantil e exigiam a sua remoção. Por essa razão, a sua apresentação nesta exposição veio acompanhada por um esclarecimento: os corpos não se referem a crianças, mas a figuras enfraquecidas perante uma força brutal. A assimetria no tamanho é, na verdade, uma representação da desigual distribuição de poder — uma provocação que nos confronta com este crime subnotificado e historicamente silenciado.
Estas obras figurativas contrastam com os trabalhos mais recentes da artista, que os apresenta como o cerne da exposição. Disposto ao longo de um corredor de teto baixo, que liga duas das grandes salas, encontramos um conjunto de pinturas com inscrições em alemão. E se há pouco referimos Fuck Abstraction!, que opta pela figuração para representar o horror — inclusive num período em que todos os seus pares optaram por uma linguagem mais abstrata —, nesta última fase do trabalho a artista parece contrariar o seu percurso, recusando a representação da figura humana. Tratar-se-á de uma recusa do deleite estético? Faço das palavras de Carolina Novo, em “Sleep well, beast”, as minhas. Talvez esta recusa seja o resultado de termos aprendido, enquanto sociedade, que há coisas que não devem ser vistas — pelo menos não repetidamente — e que as representações mediadas da violência e do sofrimento humano se tornaram numa das maiores armadilhas já inventadas. Mas esta recusa vem já tarde demais. Estamos mergulhados num abismo, e as imagens — esses olhos que nos fixam — parecem queimados na nossa retina. Há nelas uma fadiga acumulada, como se a própria possibilidade de olhar tivesse sido corroída pela repetição do horror. Estas últimas obras, quase murmuradas nas margens do espaço expositivo, não procuram representar, mas antes insinuar a ausência, o esvaziamento. Já não há nada a acrescentar. São as palavras que nos olham, depois da imagem.
A exposição pode ser visitada no MAAT até dia 27 de outubro.
BIOGRAFIA
Maria Inês Mendes frequenta o mestrado em Crítica e Curadoria de Arte na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2024, concluiu a licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade NOVA de Lisboa. Escreveu sobre cinema no CINEblog, uma página promovida pelo Instituto de Filosofia da NOVA. Atualmente, é responsável pela gestão da UMBIGO online, onde publica regularmente, e colabora com o BEAST - International Film Festival.
PUBLICIDADE
Anterior
article

22 Out 2025
BUBUIA: Libertar-se do Tempo
Por Ayşenur Tanrıverdi
Próximo
article

23 Out 2025
Museu Zer0 – Abertura
Por Ana Isabel Soares
Publicações Relacionadas